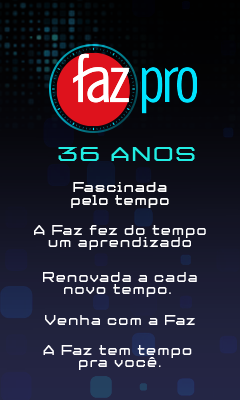– No jogo de ida realizado no nosso estádio, logo aos 6 minutos Luiz Henrique deixou dois defensores no chão e, tendo feito o mais difícil e divertido, errou no mais fácil: diante do gol aberto, chutou para fora. Ossos do ofício na vida de um craque. Interessa que, minutos depois, acertou. Fez o primeiro, de cabeça. Igor Jesus, o segundo. O Palmeiras marcou com Mauricio. Havíamos passado pelo segundo teste do ano contra eles, mas iríamos para o Allianz com a vantagem magra de um gol. Apesar da derrota, nossos rivais saíram confiantes do Nilton Santos.
– Veio a quarta-feira seguinte, a partida de volta, o terceiro teste. Por qualquer definição do mundo da bola, um jogo imenso. Tomei a ponte aérea no meio da tarde, deixei minhas coisas no hotel e fui para o Allianz, onde encontrei meu sobrinho. Tentando relembrar o meu estado de espírito, devo admitir que “otimismo” não é a primeira palavra que me vem à cabeça. Achava que podíamos arrancar um empate, mas era mais provável que eles vencessem. Se por um gol, a decisão nos pênaltis igualaria as nossas chances; se por mais de um, seríamos eliminados. Triste, porém não vexatório. Em tese, qualquer time sul-americano poderia voltar para casa de cabeça erguida depois de perder uma classificação no Allianz – em tese, claro, porque a natureza da derrota importaria.
– Começamos corajosamente, com jeitão de quem não tinha vindo a São Paulo para defender um empate. Aos 4 minutos, Savarino deu um dos seus chutes de fora da área que, de tão precisos, deviam ser ensinados em aulas de balística. A bola bateu na esquina da trave com o travessão. O Botafogo seguiu assim, arrojado, e o Palmeiras também. Eles perderam gols feitos, nós nem tanto, mas chegamos perto. Terminado o primeiro tempo, a classificação continuava sendo nossa.
– Faltavam agora apenas 45 minutos para a comemoração. Foi quando Savarino abriu a caixa de presentes. Aos 11 minutos da etapa complementar, recebeu um passe de Matheus Martins – mais uma contratação feita no meio do ano por John Textor – e já na horizontal, quase caído, passou a bola para Igor Jesus, que marcou. Espremidos entre 40 mil palmeirenses, os 2 mil botafoguenses no estádio explodiram de felicidade. Ainda gritávamos quando, 7 minutos depois, Savarino viu Matheus Martins com a bola, apontou para onde queria que ela fosse, saiu em disparada para recebê-la, dominou-a, invadiu a área e, face a face com o goleiro palmeirense, desferiu um chute tão potente que deveria ser considerado ilegal.
– Era o inacreditável acontecendo diante dos nossos olhos. Não só uma classificação na casa do adversário, mas uma humilhação para aqueles que tinham nos humilhado um ano antes. Foi ali que, pela primeira vez em 2024, vi gente chorando, agora pelos bons motivos.
– O que se seguiu foi outra das tantas cenas de 2024 que permanecerão na minha memória. Nossa torcida começou a cantar, mais por obrigação que por entusiasmo. Todos estavam como eu, aturdidos. Cantávamos, sim, mas mentalmente apalpávamos os ossos para saber se continuavam lá. É muito difícil ficar exuberante depois de uma quase morte.
Confronto com o São Paulo
– Enfrentamos o São Paulo nas quartas de final da Libertadores. Com a chegada dos últimos dois reforços do ano – os laterais Vitinho e Alex Telles –, pela primeira vez Artur Jorge tinha a escalação ideal do time. O jogo de ida no Nilton Santos foi a segunda melhor apresentação do Botafogo na temporada, e a melhor até ali. O primeiro tempo pode ser descrito como uma aula magna. Os chutes contra a meta do São Paulo vinham de todos os lados, a velocidade das tramas era vertiginosa, e o brilho de Savarino e Almada, intenso. Foi um amasso. Empatamos em 0 a 0. Futebol tem dessas coisas.
– Uma semana depois, quarta-feira 25 de setembro, o Botafogo entrava no Morumbi para disputar a vaga em situação pior do que aquela em que confrontara o Palmeiras. Para se classificar, não bastava mais o empate – teríamos que ganhar na casa do adversário ou decidir nos pênaltis.
– Para o meu gosto, o Morumbi é o estádio mais bonito do Brasil. É também um dos maiores. Naquela noite, não cabia uma mosca nas arquibancadas. Eram 60 mil são-paulinos contra 2 mil botafoguenses. Uma vez mais, o Botafogo não se intimidou e partiu para cima. Logo aos 15 minutos, Savarino, de novo ele, construiu a jogada que resultou no gol de Almada. Embora o São Paulo tenha desperdiçado um pênalti aos 46 minutos, o primeiro tempo foi todo nosso.
– O segundo tempo foi mais sofrido. Enquanto o cronômetro se arrastava lento, cada vez mais lento, pela marca dos 15 minutos, dos 30, dos 40, o Botafogo segurava a pressão, em boa medida graças a John. Perto de mim, uma jovem de mãos postas falava baixinho consigo mesma. De olhos fechados, transida pelo drama, parecia hipnotizada. Já era possível sentir e apalpar o apito final quando, a 4 minutos da nossa classificação, o São Paulo empatou. O inverno baixou na torcida botafoguense. A decisão seria por pênaltis e o pêndulo emocional agora se curvava na direção deles.
– As cobranças seriam na meta atrás da nossa torcida. Imóvel, a jovem de mãos postas encarava o gol como quem olha um precipício. Veio a primeira cobrança do São Paulo, ela fechou os olhos e não viu a bola bater no travessão e sair. Acertamos o primeiro pênalti, e também os dois seguintes. A jovem permanecia de olhos fechados. A não ser pelos lábios, nada nela se mexia. A dois gols da classificação, erramos. A bola subiu para o céu, passando a léguas da meta. Tudo igual. O batedor do São Paulo se aproximou para cobrar o quinto e último pênalti da série deles. Chutou forte no canto direito, o mesmo para o qual John pulou, mas a bola foi mais rápida e entrou. Agora tínhamos a obrigação de acertar a nossa última cobrança. Errar era ir para casa.
– De onde eu estava, via o cobrador, mas não o gol – obstruído pelos torcedores em pé na minha frente. Almada tomou distância. Um mês antes, contra o Flamengo, ele desperdiçara o único pênalti que cobrara desde a chegada ao Botafogo. O argentino correu para a bola e chutou. Vi a bola subir, subir, subir e subir. Perdi o chão. Era o fim. O Botafogo era a Itália na final de 1994 e Almada era o Baggio.
– Na eternidade após o chute, foi disso que me ocupei: das semelhanças trágicas entre nós e aquela outra potência combalida do futebol, entre um craque de hoje e um craque de ontem, ambos marcados para sempre, cruelmente, pelo pior momento de suas carreiras magníficas. Pensava nessas coisas todas já fazia algum tempo quando fui interrompido pela explosão da torcida que comemorava o gol de Almada. A bola estufara o sótão da rede, o alto mais alto antes do travessão. Uma cobrança fulminante, indefensável, maravilhosa. Como um jovem de 23 anos podia ter tanta coragem? Como podia cobrar com tamanha ousadia um pênalti daquela gravidade? Com o Botafogo de 2024, aprendi muito sobre como proceder na vida.
– Cinco cobranças, quatro conversões para cada lado. Veio o desempate e tudo foi rápido. John agarrou a cobrança do São Paulo e Matheus Martins converteu a dele. Passados 51 anos, o Botafogo voltaria a disputar uma semifinal de Libertadores. Troquei mensagens com o meu filho durante toda a partida. Segundos depois da classificação, ele me escreveu: “Dhxhcgwnzhxhxbxbshshxndjshx-hdj ndhx.” Tínhamos entrado no terreno da incoerência.
– À minha volta, gente se abraçava e pulava. A poucos metros, a jovem começava a sair do transe. Fui até ela: “Você sofreu muito, né?” Ela fez que sim com a cabeça. Puxei conversa e soube que se chamava Julia, era carioca e tinha acabado de se mudar para São Paulo. “Tenho 26 anos, nunca vi o Botafogo ser campeão”, me disse. “Quando a coisa aperta, fico me perguntando se o resto da minha vida vai ser assim. Eu, de olhos fechados, rezando. E olha que eu nem acredito muito. Eu tô apenas apelando pra tudo. É que o Botafogo é muito importante pra mim.”
– Torcedores jovens do Botafogo me interessam muito. Por que gostar tanto de um time que, ao menos até ali, devolvia tão pouco? A resposta mais frequente é que o amor derivou da família ou dos amigos. É uma boa razão, mas não é a que me toca. Julia vem de uma família de maioria tricolor e seu pai é flamenguista. Sua primeira vez no Maracanã foi na companhia dele, aos 6 ou 7 anos, no meio da Raça. Ela não quis, porém, vestir a camisa do Flamengo: já tinha decidido que era Botafogo. Extrapolando para o resto da vida (e eu sempre extrapolo), isso é escolher voluntariamente a parte mais árdua, que, muitas vezes, costuma ser também a mais valiosa. De meu lado, acharia difícil não torcer por um time que conta com gente como Julia rezando para um Deus no qual ela nem sequer acredita, para pedir que o mundo seja por fim diferente.
“Final” com o Palmeiras no Brasileirão
– “Tinha que ser aqui, cara”, disse Marlon Freitas minutos antes de entrar em campo. Capitão do Botafogo e único titular absoluto de 2024 a participar da derrocada de 2023, ele falava para seus companheiros, reunidos em roda no vestiário do Allianz. Um ano antes, na virada acachapante para o Palmeiras, um gesto seu, uma piscada de olho para um adversário quando a partida ainda estava 3 a 3, foi interpretado pela torcida botafoguense como deboche. E durante os primeiros meses de 2024, Marlon foi o nosso vilão predileto.
– Agora ele era o nosso esteio, a liderança inconteste do grupo, o homem que iniciava a maioria das jogadas e, como um geômetra, riscava as linhas que levavam ao gol adversário. “Tinha que ser aqui, mano. Tinha que ser aqui, velho.” Abraçado ao resto do time, Artur Jorge concordou: “Vai ser aqui.” Aqui, na casa deles, contra eles, na condição fatal de precisar vencer. “Não dava pra mudar nada. Dez, vinte pontos [de vantagem] – não dava. Tinha que ser assim.”
– Foi uma partida de líderes. O Palmeiras começou forte e em 10 minutos quase marcou duas vezes. Na segunda vez, vítima de um estiramento na coxa, perdemos Bastos, que vinha sendo considerado um dos melhores zagueiros do campeonato. O angolano foi substituído por Adryelson, protagonista, ele também, do traumático 4 a 3 no Nilton Santos – a sua controvertida expulsão levara o Palmeiras a partir para a virada.
– Aos 18 minutos marcamos o primeiro gol, uma jogada ensaiada que, de tão elaborada, confundiu não só a zaga adversária como também o nosso volante Gregore, que se viu onde não devia estar, sozinho diante do gol do Palmeiras. Recebendo um passe preciso de Almada, ele chutou e pôs para dentro.
– Em mais um dos estranhos ecos da partida de 2023, um jogador do Palmeiras foi expulso no segundo tempo. Minutos depois, Savarino fez nosso outro gol. Faltando pouco para terminar, o mesmo Savarino, cuja capacidade de se materializar em todos os momentos decisivos da temporada parece coisa de prestidigitador, bateu um escanteio perfeito. Um só jogador saltou e, de cabeça, marcou o terceiro. Era Adryelson, o expulso da virada, no seu único gol de 2024. Eles ainda fariam um gol, mas a vitória era nossa, 3 a 1. O quarto e último teste do ano contra o Palmeiras foi como abolir a gravidade. Iríamos para Buenos Aires flutuando.
Clima em Buenos Aires
– Nos dias que antecederam a final, Buenos Aires parecia uma sucursal de General Severiano, a sede do Botafogo. Para onde se olhasse, se via um botafoguense. Na véspera da partida, fui com um amigo a Puerto Madero e tivemos dificuldade para atravessar a massa compacta que vestia a nossa camisa. Havia gente de toda parte do Brasil e do mundo. Tinham chegado de avião, de ônibus, de carro, de bicicleta. Um torcedor veio de moto – desde Manaus. Outro, morador de Jardim, município do Ceará, anunciava feliz que acabara de encomendar um busto de John Textor para instalar em casa. Não me lembro de encontrar na vida tantas pessoas tão esperançosas.
– O jogo estava marcado para as cinco da tarde. Meu filho, meu sobrinho, meus amigos e eu chegamos ao estádio por volta das três e meia. O Monumental de Nuñez é, de fato, monumental. Pouco a pouco, aquela imensidão foi sendo preenchida e, meia hora antes do início da partida, o nosso lado lotou. Eram 40 mil botafoguenses à espera do que nenhum ali tinha vivido.
– Além dos vivos, vieram também os mortos, botafoguenses que partiram antes de ver o time ser campeão da América. Familiares e colegas traziam seus rostos e nomes estampados em cartazes ou em camisetas: um pai, uma mãe, uma avó, um irmão, uma amiga, um filho.
A final da Libertadores
– Estávamos assim, comovidos e cheios de esperança, quando a bola rolou. Dali a 29 segundos ela voltou a parar e o mundo virou de ponta-cabeça. A bola veio à meia altura, Gregore levantou a perna, o atleticano Fausto Vera baixou a cabeça e houve o choque feio – as travas da chuteira de um acertaram o rosto do outro. Vera caiu, sangrando. Os jogadores do Atlético cercaram o árbitro, que foi até Vera, constatou o estrago e sacou o cartão vermelho. Gregore estava expulso antes de a partida completar 1 minuto.
– Alguma variação do que pensei naquele instante passou pela mente de cada botafoguense que assistia à partida. “Foi para isso que vim para cá? A gente nunca vai chegar lá.” “Que time trágico, o Botafogo”, soltei em voz alta, mais para mim do que para os outros. Nossa torcida, bem maior que a do Galo, se calou. As pessoas evitavam se olhar, cada um de nós fechado no próprio pesadelo. (Ao menos nos estádios, a festa é coletiva e o velório, solitário.)
– Das arquibancadas, uma coisa foi ficando clara: apesar de termos perdido o nosso mais importante jogador de contenção, Artur Jorge não fazia gestos de quem estava prestes a mexer no time. Continuávamos em campo com quatro atacantes, dois deles bem baixinhos, quase franzinos, em nada preparados para refrear um ataque adversário, que dirá para controlar Hulk, um dos atacantes mais letais do futebol brasileiro. Dele vieram logo dois rojões certeiros. John agarrou os dois, mas, ao menos pelo que eu podia deduzir do lugar onde me sentara, o cenário não era se a bola entraria, e sim quando.
– Foi então que alguns observadores mais astutos repararam em algo estranho. Logo após a expulsão de Gregore, o Atlético passara a atacar supondo que o Botafogo iria apenas se defender. Era uma inversão da estratégia com que haviam entrado em campo. Em menos de 30 segundos, eles se viram no papel do Botafogo, um time ofensivo, e nos atribuíram o papel do Atlético. Acontece que Artur Jorge não aceitou essa permuta. Seguiu jogando como Botafogo. Assim, eram dois Botafogos em campo, e nós sabíamos ser Botafogo melhor do que eles.
– Aos poucos, o time foi tomando nova forma. Quem ocupava o meio recuou para a área. Quem estava na ponta recuou para a lateral. Tratava-se de uma mudança sem alteração, como se Artur Jorge invertesse a máxima do personagem de Lampedusa: para que as coisas mudassem no Monumental, era preciso que tudo permanecesse igual. Ou por outra: igual nos personagens, diferente na função que exerceriam. Como vários analistas comentaram depois da partida, o Atlético não criava pelo meio. O perigo vinha das pontas. Se a área estivesse protegida o bastante – como explicaria Artur Jorge, “se lhes [a eles, os quatro atacantes] pudéssemos pôr algum comprometimento defensivo” –, não seria necessário trazer um defensor para frear um inexistente progresso do Galo pelo centro. Bem melhor seria manter os quatro jogadores de frente e assim nos preservar da possibilidade de um contra-ataque letal.
– Era arriscadíssimo. Se desse errado, Artur Jorge passaria para a história do Botafogo como o técnico que, na hora mais grave do clube, preferiu ser original a fazer o recomendado. Nesse sentido, o ápice da carreira de Artur Jorge foi a decisão que ele não tomou. Não consigo pensar num único técnico brasileiro que, no minuto seguinte à expulsão, não tivesse imediatamente sacado um atacante para substituí-lo por um defensor, na esperança de segurar o empate. Danilo Barbosa voltou para o banco, sinal de que o nosso homem chegou a considerar a hipótese que estava no manual, mas, em seguida, a abandonou.
– Por que Artur Jorge assumiu esse risco? É possível que guardasse na memória uma partida ocorrida quatro meses antes. O Botafogo decidia a vaga das oitavas da Copa do Brasil contra o Bahia, em Salvador. Pela primeira vez, entrávamos em campo com a linha ofensiva ideal – Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus, os quatro que jogariam em Buenos Aires. No primeiro tempo, Gregore foi expulso e Artur Jorge fez o óbvio: trocou Almada por Danilo Barbosa. O Bahia pressionou, nós não resistimos e fomos desclassificados. Romário insiste que, ao contrário do que se diz por aí, derrotas não ensinam nada. Aqui está uma exceção.
– Passados 15 minutos, a torcida percebeu que o time recuperara a confiança e voltou a cantar. Existe um vídeo que circulou muito nas semanas após a partida e que está para o botafoguense assim como Cidadão Kane está para o cinéfilo. Filmado das arquibancadas por um torcedor, mostra uma sequência de 45 segundos e dez passes que mais lembra um bailado. Almada, o primeiro bailarino, está no centro da dança. É para os seus pés que a bola sempre retorna depois de passar pelos pés de Marlon Freitas, Luiz Henrique e Barboza (duas vezes). O que deslumbra é a posição de Barboza, e também a de Adryelson: os últimos homens da retaguarda botafoguense estão à frente da linha que divide o gramado, o que significa que, com exceção do goleiro, todos os integrantes de um time que joga com menos um estão no campo do adversário. A ousadia disso é de tirar o fôlego. Só por causa dela fizemos o nosso primeiro gol, o derradeiro movimento da coreografia: de Almada para Luiz Henrique, deste para Marlon, que chuta, a bola é rebatida e Luiz Henrique marca.
– Tinha mais. Seis minutos depois, Luiz Henrique sofre um pênalti. O lateral Alex Telles põe a bola na marca, toma distância, fixa a bola, solta o ar, corre e, na corrida, levanta os olhos: goleiro na direita, bola no canto esquerdo, fulminante. Um amigo de Belo Horizonte me escreveria: “Todos terão, nas lembranças da final da Libertadores, a recordação de um instante decisivo. Para mim foi a batida de pênalti do Alex Telles. Confiante, certeiro, resoluto, inapelável. Parecia estar mandando para as redes, além da bola, todos os nossos fantasmas. Eu poderia viver para sempre naquele momento.”
– Quisera aquele momento se eternizasse, mas não: o primeiro minuto do segundo tempo foi tão atroz quanto o primeiro da etapa inicial. Hulk cobrou um escanteio e o chileno Vargas, que acabara de entrar, marcou de cabeça. Era tudo o que não podia acontecer. Os mineiros agora teriam 45 minutos para vencer a partida ou no mínimo empatá-la, levando-a para a prorrogação e nos derrotando pela exaustão. “Isso muda tudo”, disse um comentarista da espn.
– Voltei a pensar: “Que time trágico, o Botafogo.” Fatigado, me larguei na cadeira e pus o rosto entre as mãos. E assim fui ficando, eu e muitos outros torcedores. Um deles passou o segundo tempo prostrado no chão, olhos fixos numa imagem de Jesus (o Nazareno, não Igor) estampada no celular. Há trinta anos, mesmo nos piores momentos, a torcida do Botafogo vinha sendo mais corajosa do que o time. Não arredava pé. Aquele foi o dia em que o time precisou ser mais corajoso do que nós.
– No vestiário, antes de a partida começar, Marlon tinha dito: “Vão ter que falar de mim. Vão ter que falar de nós. Vão ter que lembrar. Eu vou fazer história nessa porra, velho. Nós fomos chamados pra fazer história.” Abraçado aos colegas, Júnior Santos acrescentou: “Cada um aqui sonhou com isso quando a gente era guri e jogava nos campinhos de terra. Vamos lembrar o que dá esperança, e o que dá esperança é saber que a gente veio de baixo, da favela, dos campinhos de terra.” Eles tinham mais razão do que nós para estar confiantes.
– Revi a partida várias vezes e acho que o Botafogo foi mais heroico no segundo tempo do que no primeiro. O técnico Gabriel Milito se deu conta do que devia fazer, mexeu no time no intervalo e o Atlético passou a nos dominar. Só aí Artur Jorge fez substituições. Tivemos que nos defender já exauridos. O segundo tempo foi a nossa Stalingrado, nós no papel dos soviéticos. No estádio eu não vi, mas a cidadela quase caiu quatro vezes, aos 7, aos 20, aos 40 e aos 42 minutos. Em duas delas, o atacante Vargas entrou sozinho na nossa área e, inacreditavelmente, concluiu para fora. Faz mal até olhar o videoteipe.
– Alguém na minha frente gritou: “Sete minutos de acréscimo.” Continuei sentado e olhando para o chão. O cara ia avisando: “Faltam seis.” “Cinco.” “Quatro.” Quando ele chegou a um, me levantei. John batia um tiro de meta. A bola atravessou a linha do meio-campo e caiu lá do outro lado, onde Júnior Santos, que entrara no lugar de Luiz Henrique, a disputou com dois defensores. A bola correu para o corner do Atlético. Júnior Santos chegou antes e pôs o seu corpo entre a bola e os dois marcadores. Estavam assim, os três imprensados num canto morto do campo, de frente para as placas de publicidade e de costas para o mundo, quando Júnior Santos tirou um coelho de uma cartola inexistente. Sem se virar, intuindo a posição dos dois adversários que não via, deu uma puxeta na bola e a fez passar entre eles. Quase instantaneamente, fez o corrupio, se esgueirou pelo espaço praticamente nulo por onde a bola passara, e agora disparava em direção ao gol do Atlético enquanto seus dois marcadores ainda se viravam. Viu Matheus Martins que vinha correndo, passou a bola, o goleiro pulou, Matheus preparou o chute, o zagueiro meteu o pé, a bola bateu nele, tudo muito rápido, era o caos, um zagueiro desabando sobre o próprio goleiro, uma bola pipocando diante do gol, um atleticano vindo isolá-la e um Júnior Santos mais caído do que em pé, às sete da noite e no sétimo minuto de um acréscimo de 7 minutos, ele, Júnior Santos, que marcara o primeiro gol da nossa campanha na Libertadores e voltava de uma fratura na tíbia, marcava agora também o último, o gol do título, no derradeiro minuto da partida mais importante da história de todos nós.
– Nas horas após o apito final, me senti tão abençoado que, se alguém tivesse pedido, tenho certeza de que poderia sair pelas ruas de Buenos Aires curando os enfermos e multiplicando os pães. “A partir de hoje todo botafoguense mora em 30 de novembro. Não é mais uma data – é uma casa”, resumiu o jornalista Gustavo Poli na noite da nossa conquista. Estávamos instalados lá e, fossem outras as circunstâncias, de lá não sairíamos. Acontece que ainda faltavam duas rodadas para fechar o Campeonato Brasileiro. Seis pontos em disputa e nós com três de vantagem sobre o Palmeiras.
Titulo brasileiro
– A primeira dessas partidas foi contra o Internacional, em Porto Alegre. O Inter tinha a melhor campanha do returno e não perdia no seu estádio havia cinco meses. Entramos em campo quatro dias depois de Buenos Aires, um intervalo animadíssimo de 96 horas que incluiu a festança de comemoração do título e um desvio para o Rio de Janeiro, onde a equipe desfilou em carro aberto pela orla de Botafogo. Estávamos em frangalhos. Vencemos a partida por 1 a 0 – passe magistral de Almada, voleio sublime de Savarino.
– É uma partida que deverá se perder na nossa memória sobrecarregada de 2024, o que será injusto porque ela foi heroica. O natural era que fôssemos derrotados e voltássemos a ceder a liderança para o Palmeiras, que somaria três pontos na mesma rodada. Nos dias seguintes, começou a circular pelas redes um novo ranking dos melhores times do Brasil:
1º lugar: Botafogo.
2º lugar: Botafogo jogando com menos um.
3º lugar: Botafogo de ressaca.
– Depois de décadas difíceis, ganhávamos o direito de zoar.
– Passados quatro dias, num Nilton Santos lotado, fomos campeões brasileiros. O empate com o São Paulo nos bastava, mas vencemos por 2 a 1. Inútil dizer que o primeiro gol foi de Savarino. Desnecessário também apontar que esse gol – um toquinho que encobriu o goleiro – foi primoroso. Sofremos o empate e, a 20 segundos do fim da partida e do campeonato, tudo seguia igual quando Gregore apareceu do nada, roubou a bola, invadiu a área e marcou o gol do título. Em Buenos Aires, oito dias antes, ele tinha vivido o inferno. Agora, com justiça, chegava ao paraíso.
– Em algum lugar do céu, anjos acusaram o roteirista de 2024 de exagero.
Nova sensação do botafoguense
– Treze dias, quatro vitórias, dois títulos. “E agora?”, perguntou meu amigo de Belo Horizonte. “Como viver nesse novo mundo, coberto de glórias, olhando do alto e não mais da planície?”
– Pergunta boa, assunto delicado. O risco de incompreensão é grande. Botafoguenses de certa geração aprenderam na marra que nem todo amor é recompensado. Mesmo assim, seguiram amando. Isso não significa que o nosso amor valia mais que o de torcedores já acostumados a conquistas, mas apenas que sabíamos – sabemos – algumas coisas sobre nós mesmos que os outros não têm (ainda) como saber.
– Por isso, fazia um reparo a um amigo à minha caracterização do Palmeiras como um clube alinhado à força econômica. Era uma tentativa sincera de manter a identidade de torcedor raiz, forjada com dor e lealdade no tempo das vacas magras, quando o amor é de fato incondicional. “No momento em que a gente se torna hegemônico e passa a fazer parte dos que dão as cartas”, ponderei, “não se pode mais ser quem se era. Mal ou bem, trocamos de pele e viramos outro bicho. No caso, um bicho que vence. Um predador. É preciso reajustar a imagem.”
– Do saldo dessa conta dependerá o E agora? do meu amigo de bh. Numa bonita crônica sobre o Botafogo escrita logo depois da vitória em Buenos Aires, a poeta alvinegra Luiza Mussnich falava do nosso “pouco talento para a prepotência” e lembrava que somos “ligeiramente desajeitados” para o elogio. Perderemos isso? Alguns botafoguenses gostariam que sim, pois já teria passado da hora de sermos mais marrentos. Entendo, mas acho que existe uma diferença entre o brio e a arrogância. Faria bem termos mais do primeiro e faria mal começarmos a ser conhecidos pela segunda. Melhor deixar a prepotência para os rivais
– A diferença é que aprendemos uma coisa muito importante. Parafraseando Orwell, nossa experiência nos estádios de 2024 nos levou a entrar em contato com algo novo, estranho e valioso. Havíamos formado uma comunidade de pessoas que, a cada partida, descobria que esperança e alegria eram mais normais do que tristeza e frustração. Como escreveu meu filho, soubemos que as coisas podem dar certo. Às vezes; nem sempre. Continuamos a ser os velhos botafoguenses, agora com fé. Ganhamos a esperança de que a alegria não será apenas para os outros, botafoguenses do futuro, mas que ela também pode ser nossa.
– Duas semanas após a conquista da Libertadores, Julia, a torcedora que conheci no Morumbi, me escreveu explicando o que havia sentido quando a partida terminou: “Foi o dia mais feliz da minha vida. Lembro de ligar para a minha mãe aos prantos falando que não ter desistido tinha valido a pena, que os últimos 26 anos, todas as derrotas, rebaixamentos, tudo estava quitado ali.”
– Horas depois de cruzarmos no peito a faixa de Campeão Brasileiro ao lado da de Campeão da Libertadores, li a seguinte mensagem no celular de um amigo botafoguense: “Ufa, eu já não aguentava mais esse jejum de oito dias sem um título.”
– É isso, o Botafogo de 2024. Conquistamos o direito à felicidade, à quitação das dívidas e, vá lá, a algum atrevimento. É perdoável quando se alcança o topo da montanha depois de tanto penar. Agora é o seguinte: daí do alto, aproveitem a vista. Ela é linda, e vocês merecem.
Fonte: Redação FogãoNET e Revista Piauí