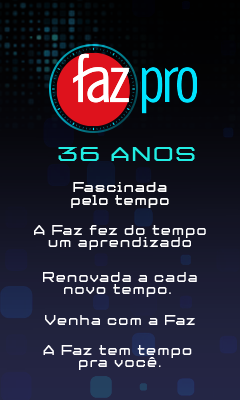Entrevista 19/12/2017 10:51
"Prisão preventiva para obter delação é pior do que tortura", diz advogado
Quando os políticos brasileiros estão encrencados, são poucos os nomes que podem buscar para resolver seus problemas nos tribunais. Um deles é Antonio Claudio Mariz de Oliveira, advogado criminalista há quase cinquenta anos, acostumado a fazer sustentações orais no Supremo Tribunal Federal (STF) em defesa de nomes dos mais diversos matizes políticos.
Quando os políticos brasileiros estão encrencados, são poucos os nomes que podem buscar para resolver seus problemas nos tribunais.
Um deles é Antonio Claudio Mariz de Oliveira, advogado criminalista há quase cinquenta anos, acostumado a fazer sustentações orais no Supremo Tribunal Federal (STF) em defesa de nomes dos mais diversos matizes políticos.
Mesmo com tanta experiência, dificilmente imaginou que enfrentaria a missão que recebeu em 2017: defender, na Câmara dos Deputados, o primeiro presidente denunciado no cargo por crime comum na história do Brasil, o seu amigo Michel Temer (PMDB).
Crítico costumaz das práticas da Operação Lava Jato, Mariz sai em defesa da advocacia, que, “incompreendida”, sofre ataques que considera injustos: “Alguns não querem compreendê-la; outros veem, no advogado, um coautor do crime. Advogados não fazem apologia de crimes”.
“Eu não gosto da corrupção assim como eu não gosto do homicídio ou do estupro. Agora, eu sou um defensor dos direitos do meu cliente – e esses direitos podem levar à absolvição ou não”, argumentou.
Em relação ao impacto das investigações na Petrobras sobre a Justiça brasileira, Mariz avalia que a Lava Jato provocou um “descompasso no ordenamento jurídico brasileiro”, adotando práticas que considera ilegais, como as prisões preventivas e conduções coercitivas.
Pondera que a operação “prestou um grande serviço ao país”, vê que houve “um assentamento na poeira”, com mudanças de postura do Judiciário e do Ministério Público, mas retoma o alerta inicial: “A Lava Jato tem que agir nos trâmites legais, porque, se não, vai cometer injustiças, como já está acontecendo”.
Nesta entrevista a VEJA, Mariz fala sobre a experiência inédita de defender um presidente denunciado – na segunda denúncia contra Temer, deu lugar a Eduardo Carnelós –, diz que parte de sua retórica extrapolou a Justiça e entrou na seara política, mas admite que não era a verdade dos fatos a preocupação de boa parte do Parlamento brasileiro na discussão da acusação de corrupção passiva feita pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot.
Às vésperas da votação, negociações de emendas parlamentares e de cargos foram o destaque nas articulações do governo com os deputados federais.
“Ali, naquele momento, o interesse demonstrado pela verdade dos fatos e pelos argumentos apresentados estava em segundo plano. Tanto os apresentados pelo relator a favor da punição [o deputado Sérgio Zveiter], quanto os meus”, disse.
Em 2015, o senhor fez críticas contundentes às práticas da Operação Lava Jato. Críticas que lhe custaram uma nomeação para o Ministério da Justiça. Passados esses dois anos, qual é a visão que o senhor tem da operação?
A Lava Jato provocou um descompasso entre o ordenamento jurídico brasileiro e o que é praticado de fato. Dou um exemplo: condução coercitiva. É absolutamente ilegal, basta ler a lei. A lei só permite a condução depois de uma injustificada desobediência por parte daquele que é intimado. Se você foi intimado com data certa, não compareceu e não justificou, aí sim a lei autoriza conduzir.
Hoje não, essa ilegalidade se tornou uma prática porque tem um apelo midiático, que é outra questão da Lava Jato. O crime se tornou um espetáculo – uma pena, porque não é, é uma tragédia humana.
A grande crítica que eu fazia e faço diz respeito às prisões preventivas com o nítido objetivo de obter uma delação premiada. A prisão preventiva é excepcional porque atinge a presunção de inocência, uma cláusula pétrea da Constituição – apesar de não estar tão pétrea depois das últimas decisões do Supremo.
Infelizmente, prisão preventiva virou antecipação de julgamento quando, na verdade, deveria ter o escopo de recolher aquele que, em liberdade, esteja causando problema para o processo ou para a ordem pública. Coagindo testemunhas ou pretendendo fugir do país, coisas desse tipo.
Em artigo publicado em VEJA, o juiz federal Sergio Moro falou sobre as prisões preventivas e afirmou que as críticas “talvez só existam porque, atrás das grades, há presos ilustres”. Como o senhor vê essa colocação? A prisão é diferente dependendo de quem é o preso?
Com a Lava Jato, surge outra prisão preventiva, que é a prisão para delação. Esta tem uma pequena diferença em relação à tortura: na tortura, você fala mais rápido porque apanha. Na prisão preventiva, ainda demora um pouco mais. Prender para delação é uma verdadeira agressão aos direitos do cidadão. Mas me parece que está havendo um assentamento da poeira, um reconhecimento de que excessos foram cometidos. Parece.
Aparentemente, já há por parte da magistratura e mesmo do Ministério Público, com a mudança que houve [a posse da nova procuradora-geral, Raquel Dodge], a compreensão de que é preciso voltar para os trilhos da lei. Eu sou contra a Lava Jato? Não, eu não sou.
Prestou um grande serviço ao país. Só que a Lava Jato tem que agir dentro dos trâmites legais porque, se não, vai cometer injustiças como já está cometendo. O grande problema é a execração pública daqueles que nem condenados foram, em uma exibição que tornou uma pena cruel e perpétua.
O senhor fala de uma espécie de criminalização da advocacia. O que quer dizer com isso?
Eu sou advogado há cinquenta anos e mantenho um pro bono (atendimento gratuito para pessoas carentes) há cinquenta anos. Comecei a advogar na cadeia. De novo sobre as prisões preventivas, não é verdade o que o Sergio Morofala, ele não conhece o outro lado. A advocacia é incompreendida: alguns não querem compreendê-la; outros veem, no advogado, um coautor do crime. Advogados não fazem apologia de crime.
Não gosto da corrupção assim como não gosto do homicídio, do estupro. Agora, eu sou defensor dos direitos do meu cliente – e esses direitos podem levar à absolvição ou não. Eu também luto pela pena justa. Não sou, necessariamente, um propagador da inocência, mas eu quero que a pena justa seja com o reconhecimento e a audiência dos direitos que o preso tem.
De onde o senhor percebe esse movimento de tratar a advocacia como coautora de crime? Tem uma origem específica?
Isso está na sociedade. Já fui várias vezes questionado na rua: “Como você é capaz de defender fulano de tal?”. É a incompreensão da profissão. Sem defesa, não há processo nem condenação. Mesmo os que querem condenar precisam da defesa porque, sem defesa, não há legitimidade. A não ser que a ideia seja acabar com o direito de a pessoa se defender.
Com essa falta de esclarecimento sobre o papel do advogado, passa-se a achar que, quando assumimos um caso, é como se estivéssemos colaborando para a prática delituosa. Esse sentimento chega através da mídia. Não posso dizer se é criado pela mídia. Não sabemos mais se é a galinha ou o ovo.
O senhor foi parado na rua quando defendeu o presidente Michel Temer? O que lhe disseram?
No caso do presidente Temer, eu senti menos. Das causas famosas que defendi, isso foi muito frequente no caso do Paulo César Farias [tesoureiro envolvido no escândalo que levou ao impeachment do então presidente Fernando Collor]. Muito, mesmo. Nos casos do Celso Pitta [ex-prefeito de São Paulo acusado de corrupção] e Pimenta Neves [jornalista condenado por matar a namorada], também.
O que eu sentia no Temer é que a população abstraía a figura dele. Reconheciam a necessidade de o governo continuar, de que seria desastrosa outra interrupção. Com ele, não senti uma objeção forte que possa ser comparada ao caso do PC Farias.
Como foi a experiência de defender o primeiro presidente da República denunciado no cargo, ainda mais por corrupção? O fato de falar aos deputados e não aos tribunais fez diferença? Foi uma defesa política?
Em geral, não se mistura a defesa jurídica com a defesa política. No meu caso, tive que resvalar no político porque defendia o presidente da República. Então, tentei fazer a defesa jurídica de um lado, mostrando a inexistência de provas, mas também precisei mostrar a inconveniência institucional de autorizar um processo contra o presidente. Nesse estágio, resvalei no papel do político, mas, na maior parte das vezes, o advogado tem a função de porta-voz dos direitos legais. Quando a política vem, é a reboque.
O senhor estava lá fazendo a defesa do presidente Temer, mas as manchetes expunham as negociações sobre cargos e emendas parlamentares. Qual foi a avaliação que o senhor fez do Congresso e do comportamento dos deputados no processo?
Eu tive que me abstrair de tudo isso e não quis saber de conversas para captar simpatias e votos. Eu me convenci que o meu papel era convencer pelo discurso, para desempenhar bem, sem influências políticas. Agora, o Parlamento é o que nós sabemos. Não vou generalizar para não ser injusto, há figuras importantes no Congresso, mas eu posso dizer que boa parte dos que estão ali busca interesse pessoal e partidário. Ali, naquele momento, o interesse demonstrado pela verdade dos fatos e pelos argumentos apresentados estava em segundo plano. Tanto os apresentados pelo relator a favor da punição [o deputado Sérgio Zveiter] quanto os meus.
Quando foi apresentada a segunda denúncia, o senhor decidiu não defender o presidente. Nas alegações, inclusive para VEJA, afirmou que isso se devia ao fato de ter advogado no passado para o operador Lúcio Funaro, delator que contribuiu para embasar a acusação. Seu nome foi mencionado em articulações e conversas como alguém que tentou convencê-lo a não delatar. Como o senhor vê essas menções ao seu nome?
Prefiro não falar mais sobre esse assunto.
Em sua posse, o novo diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Fernando Segovia, falou sobre a primeira denúncia contra Temer e relativizou a materialidade dos fatos, definindo como apenas “uma mala” as provas da acusação. A tal mala era aquela com 500.000 reais em dinheiro. Como o senhor vê essa fala do delegado, principalmente ele sendo indicado por Temer?
É uma manifestação dele enquanto delegado, não cabe a mim analisar o conteúdo. Agora, delegados têm falado muito, juízes têm falado muito. Há uma doença no ar, que é o protagonismo. Todos querem ser protagonistas, e não deveriam. Do juiz de primeiro grau ao ministro do Supremo, passando pelos procuradores e pelos delegados, há uma grande necessidade pessoal de protagonismo.
Isso é ruim, especialmente no que diz respeito aos juízes. Juiz, eu aprendi que fala nos autos do processo. Juiz não pode falar, até porque estará antecipando eventual decisão que possa vir a dar.
Retomando outra declaração do juiz Sergio Moro, ele falou, em um evento recente, da necessidade de termos um “Plano Real contra a corrupção” no Brasil. Qual seria essa fórmula, na avaliação do senhor, para combater a corrupção?
Em primeiro lugar, prisão não combate corrupção. A Lava Jato, essa ação toda, é boa, mas ela não está combatendo a corrupção. Até porque ela é pós-corrupção, pós-crime. Quando você prende, o crime já ocorreu. O que nós precisamos é evitar o crime.
Eu vejo dois caminhos: um é conscientizar a sociedade para reordenar o tecido ético que está corroído, fazer um mea-culpa sobre o jeitinho brasileiro, o hábito de levar vantagem, essas características folclóricas do brasileiro que são o germe da corrupção. Em segundo lugar, deve haver mais mecanismos legislativos para proteger o Erário, a coisa pública. É preciso vontade para reduzir a próximo de zero os crimes em licitações.
Deu em Veja
Descrição Jornalista
últimas notícias
Alta nos empregos em maio aponta tendência, diz Fiern
02/07/2025 08:40
Queijo artesanal brasileiro vence concurso dos melhores do mundo
02/07/2025 05:39
mais lidas
John Textor toma atitude importante sobre novo técnico do Botafogo
01/07/2025 09:49